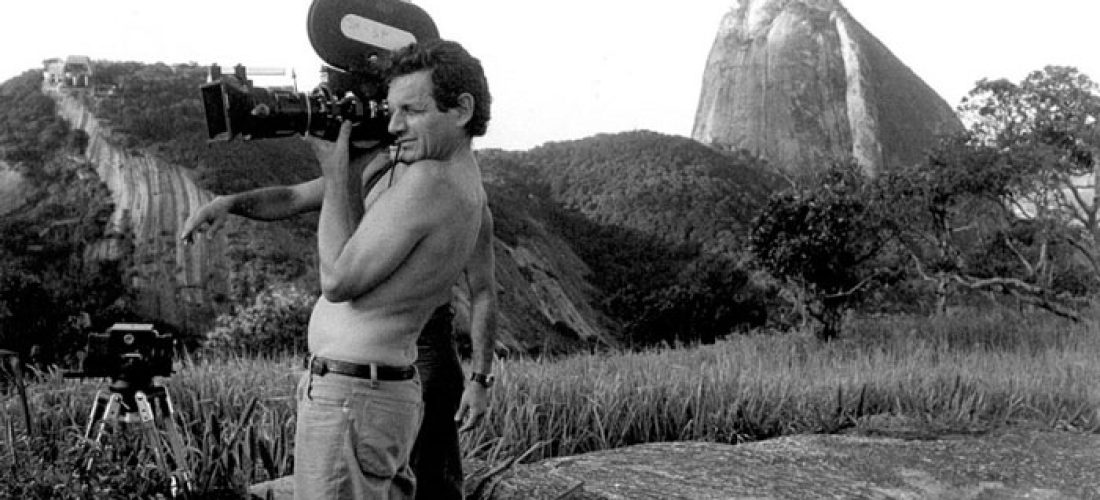No início da década de 60, o catarinense Rogério Sganzerla parte rumo a São Paulo para cursar direito. Já situado, passa a escrever no jornal O Estado de São Paulo, onde ganha espaço no Suplemento Literário e desenvolve seu (avançado) pensamento cinematográfico. Escreve entre 1964 e 1967, quando troca a máquina de escrever pela câmera e torna-se cineasta.
No intuito de retomar ao nosso presente a herança de um passado que insistem em apagar, o Depois do Cinema traz aqui a transcrição de três dos diversos textos que o cineasta escreveu para o Suplemento, na vontade de reerguer o pensamento de um pilar derrubado, não como mero documento histórico, como mera curiosidade, mas como uma quebra de paradigma, um eco berrante que impulsione a fuga do senso comum, da mediocridade dominante e do pensamento colonizado, e que nos permita chegar à crítica e, claro, ao cinema.
***
Terceiro de três textos escritos por Rogério Sganzerla em 1965, nos quais o crítico e futuro cineasta teoriza sobre as características fundamentais de determinados cineastas, e como entendendo-as chegaríamos mais próximos da realização de um cinema verdadeiramente moderno. Os três são transcritos aqui a partir do livro Edifício Rogério, da Editora UFSC.
Lançado pela primeira vez em Jornal O Estado de São Paulo. São Paulo: 31 jun. 1965. Suplemento Literário, p 5.
por Rogério Sganzerla
Em artigos anteriores, “Cineastas da alma” e “Cineastas do Corpo”, dispus-me a considerar a crise dos autores como um conflito entre alternativas contrárias: o interesse exclusivo pela alma do personagem e situações ou o interesse exclusivo pelo corpo. Tal dilema parece estender velhas questões e por vezes desemboca no bitolamento – tão frequente na crítica cinematográfica. E talvez seja o “drama” ou a “crise”, desta arte em nossos dias; as questões idealismo/realismo; abstrato/concreto; ficção/documentário; Méliès/Lumière; enfim, o cinema e sua dúvida, parcialmente solucionada por um outro diretor – Godard, Uchida – as raras exceções dentre o neodecadentismo generalizado.
Sabe-se que os grandes filmes são aqueles que apresentam uma perfeita conjugação entre as alternativas (aparentemente inconciliáveis), a síntese almejada em toda atividade artística. Lembro Noites de circo, Scarface, Marienbad, Intolerância, algumas obras de Lang – filmes clássicos, isto é, modernos.
Fragmentos e faces da realidade unem-se num bloco indivisível; os dramas interiores com os exteriores, sem predomínio ou exclusão de um ou outro; o concreto dirige-se ao abstrato e vice-versa; ficção é documentário e este é ficção; fundem-se harmoniosamente gêneros e até estilos diferentes, sem rupturas do tom geral; o belo e o feio não se distinguem mais etc., idem o corpo e a alma.
Os cineastas contemporâneos, consciente ou inconscientemente, têm ambicionado tais resultados. Aventura é um filme moderno porque, mais do que as outras obras de Antonioni, dirige-se neste sentido; Bresson, Mizoguchi, Hitchcock, também pretendem-no, mas invariavelmente predomina neles o aspecto interior da intriga, enquanto que em Visconti, Caccoyannis, verifica-se certo destaque da visão exterior. Nenhum deles alcançou o equilíbrio necessário: não conseguem fugir às parcialidades e indecisões diante do real.
No cinema, como em vários processos criativos, autores há que aderem conscientemente a maneirismos, formas consagradoras e “fáceis” – que alguns chamariam “vícios” – como compensação e solução para a tal crise. Chamar-los-ei justamente “apelações”.
Não se pode, a meu ver, relega-las a segundo plano, pois estas são as situações-limite de tendências ultrapassadas, os pontos de saturação das duas formas distintas de fazer cinema a partir de 1930.
1ª apelação. Alguns diretores ambicionam a exteriorização absoluta dos conflitos a ponto de conduzi-los à farsa autodestrutiva. Dá-se a materialização dos sentimentos humanos; e eles chegam ao cinema concreto pelo caminho oposto de um Hawks ou Fuller, não se desligando plenamente dos cineastas da alma. Entre outros, lembro Stanley Kubrick em Dr. Fantástico; Orson Welles em O processo; Vincent Minnelli, diretor de Um amor de outro mundo.
2ª apelação. Outros recorrem aos tratamentos (voluntariamente) pseudoprofundos, alternando doses de visões subjetivas – evidentemente enganadoras – e objetivas. Marnie, confissões de uma ladra (Hitchcock), O professor aloprado (Jerry Lewis) constituem tentativas maliciosas e imperceptivelmente mistificadoras e penetração me consciências sofredoras: é o cinema da alma ironizando-se a si próprio.
Enfim, não são duas, mas uma só apelação: tais diretores captam a realidade através de sua manifestação conturbada, através do desequilíbrio. Isto é, adotam uma ou outra tendência, isoladamente, mas sem dominá-la plenamente e desengajar-se da outra. E, quando o desequilíbrio é voluntariamente requisitados temos um filme gag, como O processo de Orson Welles.
Últimos estágios do cinema do corpo e da alma, respectivamente – pelo menos como foram praticados até hoje – eles definem perfeitamente a situação do artista diante da câmera, da arte e do mundo: oferecem a supercaricatura, a farsa autoconsciente, o primitivismo deliberado. Estamos, enfim, diante de um cinema crítico, moral, previsivelmente decadentista e nos últimos estágios da arte barroca.
Referi-me aos grandes filmes clássicos sem frisar a quase inexistência de grandes filmes modernos. Se, depois de Marienbad, pouco ou nada mais surgiu de comparável, há pelo menos a existência de Tomu Uchida e Jean-Luc Godard, os maiores autores da atualidade. Seria necessário incluir Louis Malle, cuja fita Trinta anos esta noite, constituiu, com as daqueles, as três melhores do ano cinematográfico de 1964 em São Paulo.
“- Mas como é possível descobrir traços comuns entre tais realizadores?”, perguntar-se-ão certas mentalidades. Pois é possível. Aventuras de Miyamoto Musashi, 4ª época, Trinta anos esta noite e Viver a vida constituem resultados animadores e até mesmo imprevistos na carreira de autores em busca do cinema clássico- moderno, da grande mise-en-scène.
Procuram evitar parcialidades na construção e apresentação dos conflitos, as tradicionais especificidades anedóticas que os sustentavam. Em Miyamoyo a tragédia não provém dos objetos, da realidade exterior, de seus inimigos, de fatores estaticamente mensuráveis, ou de sua consciência, mas de uma totalidade cósmica que Uchida não pretende fragmentar, isto é, analisar. Alain Leroy, personagem de Trinta anos…, desvenda o mundo parisiense como revela-se a si mesmo; indivíduo e meio ambiente já não constituem polos de uma realidade bilateral, mas componentes de um mesmo bloco. Apesar de não alcançar resultados definitivos, Malle procurou reduzir as considerações parcializantes – psicológicas, sociológicas, morais, dramáticas – e não cair na ingenuidade de dissecar o bloco, como em muitos “filmes sobre a alma”. Por sua vez, Viver a vida aproximou-se de um nível superior do cinema, do próprio cinema: não apreende um aspecto particular da realidade, mas a realidade mesma, displicentemente (através de uma interação de estilos, possibilidades, documentos: a comédia, o musical americano, o documentário, imitações, referências a fotonovelas, citações – de estatísticas à fita de Dreyer, efeitos bressonianos, trechos de Poe e romances (folhetins), piadas e o drama italiano). Uma tendência – do corpo ou da alma – não admite a inclusão de outra, nem certas formas da oposta – esta é uma regra de estilo que os diretores medíocres vem se esforçando-se por conservar (afinal de contas, cômoda), ao contrário daqueles que filmam a totalidade e evitam toda sorte de restrições.
Godard e Uchida usam o cinema do passado, particularmente o mudo, mas nem por isto são “usados” por ele: não conservam formas arcaicas, mas, utilizando-as, impõem seus próprios estilos (a unidade a partir da multiplicidade).
Há onze anos Ingmar Bergman conseguira um poderoso resultado de síntese, Noites de Circo, o cinema-tragédia físico e mental (a conjugação entre os dramas exteriores e interiores, o sofrimento físico com a humilhação de Albert na magistral sequência da briga). E é mais do que sintomático o fato de esta obra ser a maior do seu autor, pois desde então desvalorizou os efeitos da síntese, partindo para a análise intimista de personagens e situações, até levá-los a abstrações puras e simples. (Morangos silvestres, Fonte da virgem). Com este sacrifício do geral pelo particular, Bergman entrou em decadência: No limiar da vida pode ser considerado como uma tentativa tardia e frustrada de retomar a linha sintética de Noites de circo.
Jean-Luc Godard e Tomu Uchida destroem as antinomias iniciais entre as tendências “do corpo e da alma”, objetividade e subjetividade, propondo a síntese destas alternativas, entre cinema e a existência. Se a sétima arte teve sua(s) duvida(s) e se ela foi genialmente cultuada por Resnais em Marienbad, os diretores vêm desfazê-la com Miyamoto e Vivre as vie, filmes interrogativos e afirmativos, isto é, indagando e respondendo. Vão além do clássico “até onde vai o cinema e começa a vida?”, afirmando relações concretas entre um e outro, principalmente no diretor francês. A respeito de Uchida, é necessário incluir uma outra constante, o espetáculo que, juntamente com aquelas, produzem uma construção dialética: o que é o espetáculo? … O espetáculo é o cinema, cinema é vida, vida é espetáculo – e prossegue o círculo sem-fim, possibilitando todas as relações possíveis.
O cinema moderno é uma questão de distância, assim penso, entre câmera e personagens, ou de equilíbrio entre personagem e ator, drama e comédia, realidade e ficção… O predomínio de uma ou outra opção pode ocasionar condicionamentos: veja-se o caso de Antonioni, que não é um perfeito clássico porque tense ao drama – talvez o leve por demais a sério – ou de Welles, que se engaja na ficção levada às últimas consequências. Ou o recuo de Mizoguchi; em nenhum deles observa-se a distância ideal.
Oscienastasdaalmapretendiamsuprimirtodasasdistâncias, desprezavam todas as formas de contato do filme com a realidade, a não ser uma: a relação “íntima” entre filme e os dramas interiores – o mecanismo psicológico dos personagens. Evitam as múltiplas formas de contato, inclusive com o físico e corpo das pessoas, as relações indiretas. Como fariam Deus, caso este gostasse de cinema, os cineastas da alma queriam chegar diretamente à essência do ser humano, sem erros ou deslizes; tal pretensão possibilitou muito erro e mistificação, acrescidos ao pecado de se considerarem infalíveis (Moderato cantábile, A moça com a valise, Caminho amargo, O belo Antonio, Oito e meio e várias fitas de Fellini, O segredo da bailarina, Gosho e Ozu, Contos da lua vaga, Os desajustados, Amantes, Sansão de Wadja, e outros tantos).
Nos cineastas do corpo, não se ambicionava uma relação (dramática, psicológica, própria de Bresson, Bergman); impunha-se uma intransponível distância entre a interioridade das pessoas e a câmera de filmagem, entre filme e homem. Com esta separação, só havia possibilidade do contato – principalmente físico – o filme não ia além da pele dos personagens (Fuller, Hawks, Nagisa Oshima de Tumulo do sol, os primitivistas americanos, a câmera cínica em geral).
Em todas as renúncias há grandes vantagens: não pretendendo relações diretas, os cineastas do corpo evitavam os riscos do jogo, o erro e a mentira. O cinema de Hawks, ou de Godard em Acossado, apresenta verdades mínimas, mas inegavelmente reais; objetivas, aparentes e concretas. Enfim: vitais.
Talvez inconscientemente acreditam que o mundo é um mistério e, em consequência, a câmera, o ator, o objeto, o próprio cinema[1]. Não se deve procurar conhece-los, esses mistérios. Não ir além de suas aparências. Exatamente como o nouveau roman, é o cinema do alheamento absoluto, da estranheza diante das coisas do mundo, da inconsciência.
A proximidade cúmplice ou o recuo de demissionário podem sugerir arrebatamentos e complexos – de inferioridade ou superioridade – na relação da câmera com a realidade. Isto é: expressionismo (que é baseado neste desequilíbrio), exatamente o que o cinema moderno vem destruindo nestes últimos anos.
A obra de alguns cineastas (Yoshida, Sugawa, Francesco Rosi) orienta-se na procura da distância ideal, em que se fundem a multiplicidade e o fervilhamento barroco com a unidade e superioridades clássicas (a disciplina livre, aprendida através de um olho superabundante e generoso, a câmera). Godard, Tomu Uchida e, de maneira não definida, Malle, conseguiram alcançá-lo quase ao mesmo tempo. E de modos diferentes.
É necessário observar que não provem eles das mesmas fontes. O diretor de Uma mulher é uma mulher descende diretamente do cinema norte-americano, de uma tradição de cineastas do corpo, o que talvez aconteça com Uchida, que iniciou sua carreira com filmes e “personagens populares” e idêntica vocação documentarista. Louis Malle vem da tendência oposta, a dos cineastas da alma. Mas o encontro final destes autores confirma o caráter provisório e relativo destas concepções, períodos estagiários – talvez necessários – em obras que se dirigem a um cinema superior.
Não se comprometendo com personagens, insolúveis e perigosos dramas interiores, também evitam ser complacentes ou submissos diante da realidade (Oshima, Losey). Esta distância ideal possibilita um depuramento estilístico, uma certa ironia, a supressão do sentimentalismo, enfim, uma série de vantagens e descondicionamentos: a sabedoria. Uchida e Godard não fazem um cinema da alma ou sem ela, do corpo ou sem corpo: autores realistas captam o universal, construindo uma identificação dos polos contrários. Evitando qualquer vinculamento, praticam um cinema livre.
[1]:Não confundir com “misterioso”