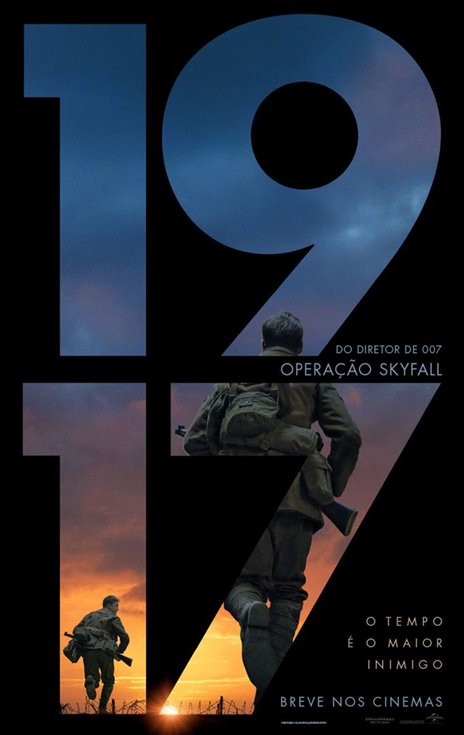A esta altura do campeonato, Hollywood já produziu tantas dezenas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial (muitos com o claro objetivo de concorrer a prêmios no final do ano) que o tema em si acabou meio desgastado, como se a maior parte dos cineastas falhassem em encontrar novas nuances daquele período histórico e se limitassem a criar novas versões de produções melhores feitas no passado. Não é de se espantar, portanto, que a decisão do cineasta Sam Mendes ao realizar seu próprio épico de guerra tenha sido a de enfocar justamente um conflito que, embora dramático e sangrento, vem interessando menos a Hollywood nos últimos anos do que a Segunda Guerra – estou me referindo, claro, à Primeira. Felizmente, com bons resultados: atirando o espectador no meio de um cenário tenso e imprevisível, 1917 é uma obra tecnicamente impressionante, mas que jamais permite que seus caprichos estilísticos se sobreponham ao potencial dramático da narrativa.
Inspirado nas histórias que o próprio avô de Mendes (que lutou na Primeira Guerra Mundial) lhe contava quando criança, 1917 acompanha os jovens soldados britânicos William Schofield e Tom Blake, que, no meio das trincheiras da guerra, são encarregados de levar uma mensagem ao Coronel MacKenzie antes que este envie cerca de 1.600 homens para uma batalha contra os oponentes alemães que certamente resultaria em centenas de baixas desnecessárias. Para completar a missão, porém, Schofield e Blake terão que atravessar todo o território inimigo, se submetendo a diversos riscos que podem surgir a qualquer momento e lutando contra o tempo para chegarem a MacKenzie o mais rápido possível – algo que se torna ainda mais urgente quando consideramos que o irmão de Blake faz parte de um dos pelotões que o coronel pretende mandar para o conflito.
Buscando criar uma atmosfera que faça o público se sentir mergulhado no universo frio, impiedoso e hesitante da guerra, Sam Mendes se propõe a criar, em 1917, uma experiência imersiva, que conceda ao espectador algo relativamente próximo à sensação de estar presente em um conflito real – algo que Christopher Nolan também tentou fazer em seu Dunkirk. Em outras palavras: por mais que seus esforços narrativos/dramáticos/temáticos existam, o principal objetivo do filme é mais estético do que qualquer outra coisa; o que, claro, não é um problema desde que os resultados sejam bem-sucedidos (e, neste caso, são). Assim, a primeira decisão estilística que chama a atenção é, obviamente, o fato de o longa ter sido quase inteiramente rodado com o propósito de simular um imenso plano-sequência (ou, ok, dois) – uma decisão que, vale lembrar, não é inédita na História do Cinema: Alfred Hitchcock fez isso em Festim Diabólico; Gustavo Spolidoro fez isso em Ainda Orangotangos; Alexandr Sokurov fez isso em Arca Russa (e de forma ainda mais ambiciosa, já que realmente filmou os 99 minutos daquele – brilhante – filme de uma vez só).
E é uma decisão que, inclusive, tinha tudo para soar não só como um exibicionismo bobo, mas como um empecilho para toda a proposta de Mendes, já que, caso chamasse demais a atenção para si, o recurso poderia acabar lembrando o espectador de que há alguém por trás da câmera e, assim, tivesse sua imersão imediatamente interrompida – como aconteceu, a meu ver, com Birdman, no qual Alejandro González Iñárritu basicamente queria ostentar sua capacidade de imaginar uma decupagem tecnicamente ambiciosa sem pensar em como esta poderia comprometer a tal experiência como um todo. No caso de 1917, porém, a ideia de ser um longuíssimo plano-sequência funciona justamente a favor da imersão: embora no começo a sensação de estarmos assistindo a uma cutscene de videogame seja inevitável (algo que Mendes infelizmente faz questão de reforçar ao trazer várias pontas de atores famosos que servem apenas para indicar qual será a próxima “fase” que os personagens terão que completar), o recurso se mostra eficaz ao fazer o espectador ter uma noção contínua do tempo no qual a ação se transcorre (afinal, há pouquíssimas elipses, o que quase confere uma ideia de “tempo real” à narrativa), sentindo ainda mais de perto o fluxo do que é retratado na tela.
Assim, em vez de funcionar como um mero capricho, o trabalho de Mendes em parceria com o (magistral) diretor de fotografia Roger Deakins cumpre a função de fortalecer a incursão do espectador no universo da obra – e os méritos de Deakins, aliás, não param por aí, saindo-se particularmente bem na sequência que traz Schofield correndo pelas ruas de uma cidade iluminada pelas chamas das explosões à noite e que se torna visualmente impactante (e, para mim, assustadora) graças ao uso de luzes difusas, com movimentações bem calculadas e altamente contrastadas à escuridão do ambiente ao seu redor. Além disso, a construção sonora do longa se mostra fundamental ao conferir peso físico a todas as ações que ocorrem ao longo da projeção, o que tende a torná-las mais verossímeis (percebam, por exemplo, o impacto das balas nos capacetes dos soldados), ao passo que a trilha de Thomas Newman se destaca ao investir em melodias sentimentais através de um piano aqui e um instrumento de cordas ali, fugindo da obviedade das notas graves que sempre buscam imprimir tensão de maneira fácil. Para completar, o designer de produção Dennis Gassner faz jus à frieza e ao horror das trincheiras, dos buracos e das casas abandonadas e/ou destruídas ao complementá-las com elementos que vão desde a lama presente em todos os solos até os cadáveres humanos que se encontram em boa parte dos cenários.
Em contrapartida, por mais imponente e admirável que seja de um ponto de vista técnico, o que mais me encantou em 1917 foi sua maneira essencialmente humana de enxergar os dramas gerados pela guerra e, principalmente, os próprios personagens: longe de serem enxergados por Sam Mendes como heróis óbvios e unidimensionais, os soldados acompanhados pelo filme são, acima de tudo, indivíduos vulneráveis, revelando-se verossímeis em seus medos, em suas incertezas e em suas fraquezas físicas. Em outras palavras: não há espaço para caracterizações icônicas (embora a técnica grandiosa possa sugerir isto); apenas pessoas que agem e se comportam como tais. Neste sentido, é interessante que Mendes imprima uma efemeridade notável ao conflito em si, não se preocupando, por exemplo, em retratar as inevitáveis mortes como sacrifícios heroicos e/ou emblemáticos – em vez disso, o cineasta prefere nos lembrar de como um rato aparentemente inofensivo pode causar uma explosão apenas ao passar por cima de um fio no chão, ou que um avião caindo a poucos metros de distância de um personagem pode não ser o suficiente para feri-lo, mas uma facada vinda de um inimigo aparentemente neutralizado talvez seja.
A partir daí, 1917 consegue fazer algo fundamental em uma narrativa sobre guerra (e que faltou, para mim, em Dunkirk): levar o espectador a compreender a tensão experimentada pelos personagens, sentindo de forma quase visceral a aflição motivada pelo fato de que qualquer coisa pode atingi-los a qualquer hora e em qualquer lugar – não é à toa, inclusive, que a câmera se mantém constantemente próxima aos soldados, o que permite que o público acompanhe de perto as ações por estes protagonizadas, quase como se também participasse das cenas em questão. Além disso, os diálogos entre os personagens soam como conversas que soldados provavelmente teriam (ou tiveram) na vida real, incluindo dúvidas que uma pessoa em estado de total desgaste mental poderia ter (“Em que dia da semana estamos?”, por exemplo) e girando em torno de assuntos pessoais que são naturais de alguém que há muito foi obrigado a abandonar sua vida privada para se lançar em um conflito sangrento (a vontade de voltar para casa e de reencontrar a família, em especial, é algo certamente compreensível em uma situação como esta).
E é admirável, portanto, que um filme tão preocupado com os aspectos técnicos de sua concepção se dê ao trabalho de pausar a narrativa para dar atenção a um ato simples, mas tocante e revelador: um grupo de soldados reunidos e sentados no meio da floresta enquanto cantam uma música para se preparar para partir para o conflito armado – algo que realça o quanto aqueles personagens são, acima de tudo, humanos carregados de medos e inseguranças. Por outro lado, o diálogo entre Schofield e uma mãe alemã encontrada em um prédio abandonado constitui uma outra pausa na narrativa, mas que, ao contrário da que citei anteriormente, acrescenta menos à dramaturgia do filme do que ele mesmo parece achar, quebrando pontualmente seu ritmo. Como se não bastasse, é possível questionar a ética de Sam Mendes ao criar uma obra que basicamente se aproveita de uma barbaridade como a Primeira Guerra Mundial para proporcionar uma experiência estética e “imersiva” para o espectador, como se buscasse fetichizar ou explorar uma das piores coisas já criadas pela Humanidade (a própria guerra).
Ainda assim, 1917 é uma obra eficiente o suficiente para resistir até mesmo a estes tropeços, encontrando um equilíbrio perfeito entre a tensão provocada pela guerra e os conflitos intimistas dos personagens. Neste sentido, é interessante perceber como o terceiro ato não se sente obrigado a criar um clímax grandioso que envolva aviões se abatendo ou exércitos inteiros se enfrentando; basta apenas trazer um soldado correndo para entregar uma mensagem a um coronel a fim de minimizar um conflito específico. E, ao mesmo tempo, há também a boa conclusão de um arco dramático – o de Schofield – que, mesmo situado no centro de uma batalha maior, é bem resolvido dentro de seus próprios termos.
Vídeo SEM spoilers que gravei sobre o filme: